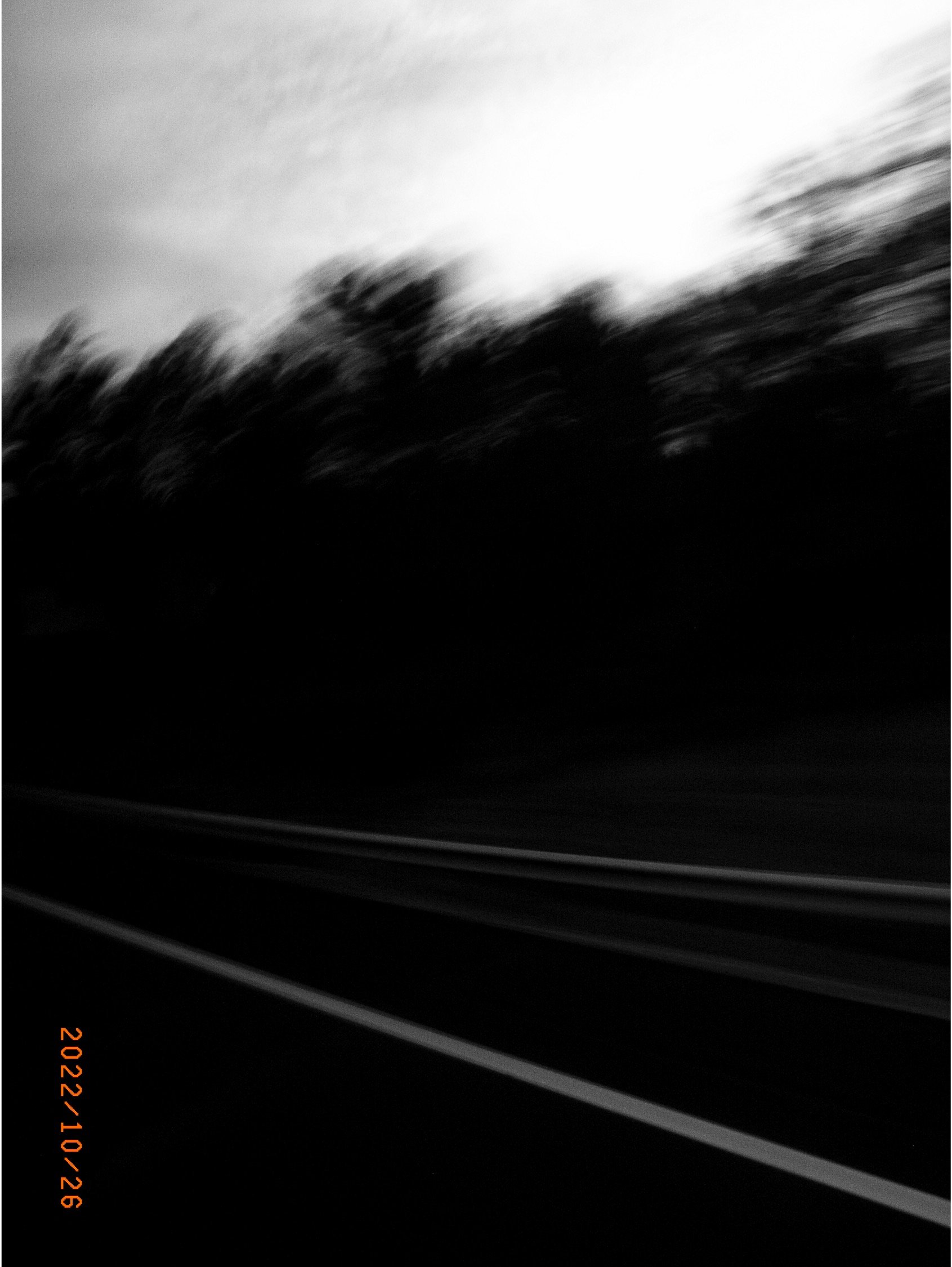José Bértolo — Pessoal e transmissível (O Livro da Patrícia)
Este livro não é um livro. É uma pirâmide.
Amândio Reis
A Patrícia
Patrícia Almeida é uma das fotógrafas portuguesas mais notáveis. Pensando naqueles que não têm este nome bem presente, contudo, deixo aqui a sua nota biográfica tal como ela surge num CV incluído no website pessoal da fotógrafa:
Patrícia Almeida é fotógrafa e co-fundadora das edições GHOST com David-Alexandre Guéniot. Vive e trabalha em Lisboa. Licenciou-se em História pela Universidade Nova de Lisboa (FCSH) e graduou-se em Fotografia na Goldsmiths College, em Londres. Interessa-se pela fotografia como linguagem e território de investigação e criação artística. As suas exposições tomam frequentemente a forma de instalações que integram diversos modos de produção de imagens: fotografias impressas, livros de artista, cartazes, painéis, jornais, vídeos ou imagens projectadas. Os seus projectos costumam ter origem em livros ou publicações de artista, o que é um aspecto importante do seu trabalho.
Em 2009, foi nomeada para o prémio de arte contemporânea portuguesa BESphoto, pela exposição e pelo projecto de livro intitulados Portobello.
(em inglês no original, tradução minha)
Desta nota gostaria de salientar três coisas: 1) a menção a David-Alexandre Guéniot, um nome que ressurgirá aqui e que, para além de sócio da fotógrafa no trabalho, foi também seu companheiro em vida; 2) a referência à GHOST, uma editora de livros de fotografia que, entre outros trabalhos, publicou vários dos livros mais importantes de Patrícia Almeida — alguns destes em co-autoria com Guéniot; e, 3) a indicação de um interesse de natureza mais teórica pela fotografia, entendida enquanto medium e enquanto prática (“Interessa-se pela fotografia como linguagem e território de investigação e criação artística”).
Para além de esta disposição para o pensamento integrar o trabalho artístico de Patrícia Almeida, manifestava-se também no seu trabalho pedagógico. No fim do seu CV, é referido, ainda, que é professora na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, onde lecciona a disciplina de Projecto Fotográfico no curso de Som e Imagem.
Aqueles que não conhecem Patrícia Almeida poderão ter percebido nestas linhas uma indecisão entre tempos verbais no passado e no presente. Esta mesma oscilação marca presença no próprio website da artista, de onde extraí a nota biográfica. Na secção “About”, a mesma nota que transcrevi aqui (e que está disponível numa hiperligação no site intitulada “CV English 2015”) surge quase intocada, mas com os tempos verbais no passado.
De “Patrícia Almeida is a photographer and co-founder of GHOST Editions together with David-Alexandre Guéniot” passou-se para “Patrícia Almeida (1970-2017), photographer and co-founder of GHOST Editions together with David-Alexandre Guéniot”. De “Her exhibitions frequently take the shape of installations working with various means of image production” passou-se para “Her exhibitions frequently took the shape of installations working with various means of image production” (ênfases minhas).
Mais elucidativamente, toda uma frase foi eliminada do CV de 2015, na passagem à nota que se pode ler em Setembro de 2023: “She lives and works in Lisbon”. Esta alteração deve-se ao facto de Patrícia ter falecido há seis anos, em 2017, vítima de cancro, contando apenas 47 anos. A biografia mantém-se, portanto, à excepção da referência ao “trabalhar” e ao “viver”.
Esta distinção entre uma nota biográfica e a outra sinaliza, ainda, uma questão que aqui me interessará perseguir noutras esferas, e que aproveito para introduzir. Se a nota no CV de 2015 terá sido escrita pela própria Patrícia Almeida — ainda que esta, à boa maneira das notas biográficas institucionais, fale de si mesma na terceira pessoa —, a nota que se lê na secção “About” do seu website pessoal terá sido escrita por outro — um outro que pudesse acrescentar aquele “(1970-2017)” a seguir ao nome: a data de nascimento e, mais importante, a data de morte (que ninguém poderá, à partida, a menos que se chame Brás Cubas, incluir numa nota biográfica da sua própria autoria).
Estes são, portanto, textos semelhantes, mas ao mesmo tempo muito distintos, pondo em evidência, nas suas subtis variações, a complexidade de questões como experiência e biografia, auto-representação e representação pelo outro, escrita e reescrita, passado e presente, vida e morte.
O “outro” que reescreveu a nota primeiramente elaborada por Patrícia terá sido, presumimos, o seu companheiro e sócio David Guéniot, a quem coube a tarefa de preservar o legado da artista. Esta (con)fusão de autorias é um dos aspectos que destacarei aqui, a propósito de O Livro da Patrícia. Antes, porém, introduzirei este objecto.
O Livro
O Livro da Patrícia foi publicado em 2022, pela Ghost Editions em versão portuguesa, e, ao mesmo tempo, numa versão francesa — Le Livre de Patrícia — pela Ghost em co-edição com a Éditions LOCO. É um livro assinado por David-Alexandre Guéniot e tem como tema Patrícia Almeida, falecida cinco anos antes.
A “tematização” da fotógrafa é visível desde o título — tanto quanto as palavras podem tornar um ser visível… — mas também, e sobretudo, na capa do livro. O título, aliás, não surge na capa, constando apenas na lombada. A capa dá a ver, somente, um auto-retrato de Patrícia Almeida.
Se uma capa é o rosto do livro, e se este livro é, em parte, um retrato de Patrícia (dado que ela é, com efeito, o tema), torna-se assim significativo que no rosto do livro esteja o rosto de Patrícia.
Porém, como rapidamente se constata, o rosto de Patrícia não está, de facto, visível neste auto-retrato escolhido para figurar na capa. Trata-se, afinal, de um auto-retrato ao espelho, em que o flash da máquina fotográfica, por sua vez colocada em frente do olho da fotógrafa, cria um halo de luz que, paradoxalmente (paradoxalmente porque a luz, regra geral, revela em vez de omitir), esconde o rosto da mulher.
Guéniot comenta esta fotografia no interior da obra. Num texto que integra o livro, intitulado “Última Imagem” (coincidentemente, ou não, também o título de um livro de Margarida Medeiros que tem como subtítulo “Fotografia de Uma Ficção” e que versa sobre um tópico que Guéniot também convoca aqui [vd. p. 70-1]), o autor reporta-se ao dia em que teve de escolher uma fotografia para figurar junto ao caixão, simbolizando a pessoa desaparecida — gesto que não conseguiu executar, num momento em que qualquer imagem de Patrícia não servia senão o efeito de sinalizar a falta da pessoa e do corpo. Escreve Guéniot: “A presença dos restos mortais — o grau zero do seu corpo — esvaziara qualquer imagem da sua substância. Gostar desta ou daquela fotografia não bastava” (38). Algumas semanas depois, porém, Guéniot lembrou-se de uma imagem: “Um auto-retrato com flash (...) que cegava o espectador e apagava o seu rosto. Existiria melhor fotografia do que aquela em que ela desaparecia dentro e por intermédio da fotografia?” (38).
O livro começa, assim, a significar desde a sua própria forma material, o seu design: no rosto deste livro sobre uma mulher morta está o rosto apagado, ausente, ilegível, desta. Se Patrícia é o referente do livro, ela é um referente fantasmático, desvanecido (e evanescente), porque já não existe referente, mas sim as imagens dele, aquelas que sobrevivem ao ser, autonomizando-se e adquirindo nova potência simbólica, e tornando-se, com efeito, um novo ser. (“um fantasma de verdade. Uma verdade fantasmagórica” [112]) E uma analogia passa, então, a poder ser identificada entre a fotografia de Patrícia e o livro de Guéniot: ambos registam — no caso dela, fotograficamente; no caso dele, através da construção de um livro — um desaparecimento dentro e por intermédio da fotografia/do livro.
Dizer que O Livro da Patrícia é um livro sobre Patrícia pode consistir, porém, em reduzi-lo a um objecto de digestão fácil, ainda que melancólica — como uma canção pop triste —, que ele de modo algum é. A inclassificabilidade deste objecto foi, aliás, consistentemente notada pela crítica. Celso Martins escreveu no Expresso que “Guéniot fez um dos livros mais interpeladores que surgiram entre nós, mesmo que não saibamos bem como classificá-lo”; Marceline Delbecq inicia a sua recensão na The Art Newspaper com a palavra “inclassable”; e Sara Figueiredo Costa classificou o livro como um “livro tão difícil de classificar”.
Este é, de facto, um livro de difícil classificação, tanto a nível formal, quanto ao nível da sua própria natureza temática. No que diz respeito à forma e à construção, é um objecto próximo de outros publicados anteriormente pela Ghost, cujo catálogo, cito Sara F. Costa, “se tem construído com livros que cruzam a fotografia e o ensaio, a imagem e a palavra em modo de reflexão”. Um objecto híbrido, portanto, feito de breves textos escritos por Guéniot, quase nunca ultrapassando uma página, associados a imagens de proveniências diversas (devidamente identificadas num anexo final), desde o acervo pessoal do casal, a fotografias de outros autores, print screens, fotografias de livros, manuais de fotografia, notícias de jornal, fotogramas de filmes, entre outras.
No que diz respeito à sua dimensão conteudística ou temática, este é um livro sobre Patrícia, mas também sobre Guéniot e, ainda, sobre fotografia — sendo que, deve dizer-se, estes três “temas” (assim, entre aspas, porque há coisas demasiado grandes para serem temáticas) são, afinal, indesvinculáveis, dado que um não existe sem os outros. Um livro, então, sobre uma mulher que morreu, mas também sobre o luto de um homem e sobre a fotografia que os unira (e continua a unir) em vida.
O Livro da Patrícia tem origem num projecto de livro de Patrícia Almeida, cujo desaparecimento precoce não lhe permitiu concretizar. Num dos primeiros textos, intitulado “Uma História Pessoal da Fotografia”, Guéniot descreve o seu encontro (de contornos quase ilícitos) com esse projecto não concretizado:
Num documento que encontrei no seu computador, Patrícia retoma algumas notas de trabalho e esboça uma cronologia pessoal. O texto está em inglês:
1977 — Roland Barthes began writing a book of thoughts on the photographs he kept of his mother who recently died
1988 — I was 18. I shot my first roll of film. I read for the first time Roland Barthes’ Camera Lucida.
2017 — I am 47 and I am trying to write my personal history of photography.
Mais tarde, num texto intitulado “Desfocado”, Guéniot regressa a este projecto inacabado:
Comecei a mostrar a maqueta do livro.
Em jeito de introdução, explico ao meu interlocutor que o ponto de partida é um projecto interrompido, Struggling with Photography, que devia reunir uma série de ensaios visuais sobre a sua relação com a fotografia. Como a fotografia atravessou a sua vida e a ocupou: primeiro como prática autodidacta, depois como campo de estudo, e finalmente como terreno de experimentação artística.
O meu interlocutor parece desiludido. Esperava um livro dela, ou talvez sobre ela.
Activei o dispositivo tal como existia no projecto inicial: a fotografia como tecnologia e como linguagem[,] e depois apontei a objectiva para ela, sabendo que o ponto focal não se situava nela, mas nesse espaço (desfocado) que separa o fotógrafo do que é fotografado e liga o fotógrafo à fotografia. (131)
Guéniot explicita aqui a natureza dupla do seu livro. Ao mesmo tempo que activa o “dispositivo” imaginado por Patrícia — a produção de um livro sobre a fotografia como tecnologia e como linguagem, que seja também uma “história pessoal da fotografia” —, aponta a objectiva para ela, ou, por outras palavras, torna-a também objecto do livro, reconhecendo porém que o livro — livro que, usando a metáfora de Guéniot, é tornado câmara — não pode focá-la (porque ela já não existe — a co-presença do referente é uma fatalidade da fotografia a que a literatura se furta), mas foca, sim, o espaço entre ele e ela, o mesmo que o une à fotografia, ou seja, ao espaço que este livro cria.
O livro e os livros
O Livro da Patrícia é, então, enquanto projecto e objecto, um livro com uma natureza profundamente fantasmática. Ainda que dê pelo nome de O Livro da Patrícia, ele não é inteiramente “o livro da Patrícia”. Esse seria o livro que o autor deste livro desejaria que tivesse existido, mas que não chegou a passar de um esboço. E esse é, também, um livro cuja virtualidade ganhou concretude neste outro livro escrito por Guéniot: é um livro-fantasma aqui contido. E esse livro virtual é a própria condição de possibilidade deste livro-substituto — porque sem ele, este não existiria. “O livro da Patrícia” e o “O livro do David” confundem-se, então. Existem embrulhados um no outro, contaminando-se mutuamente de espectralidade e matéria, morte e vida, histórias pessoais e fotografias.
Lendo as notas de Patrícia sobre o livro que nunca chegou a escrever, e olhando para o livro que David Guéniot nos fez chegar, torna-se claro que existe uma figura que assombra ambos: Roland Barthes. Em particular, o Barthes de Diário de Luto e de A Câmara Clara, textos celebremente escritos no rescaldo de uma morte. Na verdade, O Livro da Patrícia afirma-se como uma espécie de síntese das forças que animam estas duas obras de Barthes — racionalização e expressão da dor da perda —, a primeiro das quais, publicado postumamente, é do domínio do íntimo e do privado.
A propósito de O Livro da Patrícia, Rui Catalão refere que Guéniot “[e]rgue uma carapaça analítica que lhe permita resistir às invasões sentimentais”. Também Guéniot dá conta desta passagem do luto à racionalização e à construção, da passagem do íntimo ao público (e publicável): “Acho que houve um primeiro impulso qualquer, a necessidade de escrever para pôr em palavras aquilo que estava a viver, e essa foi uma fase mais terapêutica”. Na mesma entrevista, diz ainda: “A publicação, o tornar público, já não tem qualquer efeito terapêutico, aqui é preciso construir o objecto, que é outro tipo de lógica. Já não é uma lógica de expressão, mas antes de construção”. Depois de identificar a influência barthesiana, Guéniot sintetiza: “Para mim, o que vai distinguir o largar da vertente terapêutica e a passagem para o lado mais pessoal vai ser a forma, que é ao mesmo tempo uma protecção e um espaço que posso construir para acolher o leitor”.
Porém, Guéniot não abandona completamente a componente íntima, pessoal, quase confessional, que tornaria possível, com efeito, chamar a este livro uma espécie de “diário de luto”. Porque esta é também, de facto, uma obra sobre o amor, sobre a morte, e, particularmente, sobre o que é sobreviver ao desaparecimento de quem se ama, assistir à sua desaparição. Disto é sinal, por exemplo, um texto como “Um dia bem preenchido”, em que Guéniot recorda o encontro dos dois (possivelmente o primeiro) numa noite, no Lux. Em “A Seguir”, um dos textos mais penetrantes do livro (tão penetrante que nos esventra, pelo facto de as palavras não nos poderem ferir realmente), fala sobre a decisão — tomada por Patrícia — de morrer em casa, ao invés de no hospital, numa altura em que a morte já lhe estava prescrita. Em “Olhos nos olhos”, Guéniot partilha uma fotografia tirada por si, ao espelho da casa de banho, em que vemos Patrícia, sem cabelo, a ser beijada no rosto pelo filho Gustavo. Em “Filtro”, partilha um print screen de uma videoconferência entre o casal, ocorrida um mês antes do desaparecimento de Patrícia (que então estava de visita ao Brasil), feito quando esta, brincando com os filtros da aplicação, pusera uma caveira sobre o seu rosto.


Enquanto reflexão sobre a fotografia, porém, O Livro da Patrícia aproxima-se definitivamente de A Câmara Clara, ao explorar sobretudo a ontologia espectral das imagens. Guéniot parece estar especialmente interessado nos paradoxos que também haviam animado Barthes perante uma situação análoga de morte de alguém muito próximo (no seu caso, a mãe): a sobrevivência dos mortos nas fotografias, a possibilidade de uma co-substancialidade entre os seres e as suas imagens, a permanência de um fragmento de passado num presente eterno.
Guéniot põe-se, aqui, do lado dos “realistas”, como lhes chamou Barthes, quando escreveu em Câmara Clara: “Os realistas, nos quais eu me incluo e me incluía já quando afirmava que a Fotografia era uma imagem sem código (...), não tomam, de forma alguma, a foto por uma ‘cópia’ do real, mas por uma emanação do real passado: uma magia, não uma arte” (99). Ambos são realistas, então, na medida em que entendem a fotografia enquanto ferramenta de (uma certa forma de) imortalização, sofrendo do “complexo da múmia”, como escreveu Bazin, outro realista. Múmia essa que, aliás, é convocada para o interior do livro por Guéniot, através de uma imagem colocada significativamente junto a uma fotografia do livro de Barthes.


Barthes é, então, explicitamente convocado por Guéniot. Diversas vezes, aliás. Na p. 41, o autor insere uma fotografia da página de uma edição portuguesa de A Câmara Clara em que se vê o célebre retrato de Lewis Payne, um condenado à morte fotografado na sua cela por Alexander Gardner, antes do enforcamento. Lê-se na legenda (no livro de Barthes), “está morto e vai morrer”. Porque, segundo Barthes, o punctum desta fotografia reside na iminência da morte do retratado no momento do registo. E, contudo, sabemos hoje, ao olhar a fotografia, que ele já morreu. Fundem-se o “isto será” e o “isto foi”. À luz disto, dir-se-ia que Patrícia Almeida — abundantemente retratada neste livro — é como que o Lewis Payne da obra de Guéniot. Olhamos para ela e pensamos: está morta e vai morrer. O horizonte de todos os retratos de Patrícia que podemos vislumbrar neste livro é o momento da sua morte: “isto será” e “isto foi”. Mas também “isto é”, dado que a fotografia contemporiza o passado. Ela é o lugar onde os seres desaparecidos podem ser no presente. Porque, novamente Barthes: “Dir-se-ia que a Fotografia traz sempre consigo o seu referente, ambos atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou fúnebre, no próprio seio do mundo em movimento” (11, ênfase minha).
Mas ainda que certamente barthesiano em diversos aspectos, vale a pena ressalvar que, enquanto livro de e sobre fotografia, O Livro de Patrícia é assaz singular. E essa singularidade provém da complexidade e da sofisticação com que Guéniot constrói este objecto. Ao invés de fortemente retórico, como é o livro de Barthes, este assenta sobretudo numa lógica da incompletude e da sugestão. A sua origem e o seu estatuto de duplo material de um original fantasmático (porque não chegou a existir de facto [mas nós sabemos que os fantasmas não precisam de existir de facto para de facto existirem]) atribuem-lhe, à cabeça, um poder simbólico tremendo; mas a matéria heteróclita de que é composto, e o cuidado na construção do objecto livro em função da sequenciação e da combinação desses materiais, tornam-no um ser pregnante, a partir do qual se pode extrair, muito mais do que leituras, mundos. É um livro que enxerta verdadeiramente real no real (ou imaginário no real, que é a mesma coisa). Porque é, afinal, um livro generoso, uma partilha cuidadosamente arquitectada de modo que possamos torná-lo também nosso, preenchendo as suas lacunas com aquilo que trazemos connosco em matéria de vida, morte, sofrimento, e de relação com o mundo, os seres e as imagens.
Nem ode nem espiritismo
O livro abre com uma dedicatória e uma destinação. É dedicado “à Patrícia” e oferecido “ao Gustavo”. Mas este é o livro que, contrariamente a Diário de Luto, foi concebido com vista a ser lido, sendo também, portanto, inevitavelmente, destinado aos seus leitores. Disto é sinal, aliás, a oscilação dos textos na forma de tratamento de Patrícia — entre o “tu” e o “ela” (e, ainda, o “nós” [177-78]).
Patrícia Almeida morreu e passou a assombrar a vida de David Guéniot. Guéniot escreveu este livro que, pelas diversas características que identifiquei (e muitas outras há, aviso a tripulação, que ficaram por identificar), não podia senão estar cheio de Patrícia. E este livro passa a ser o lugar, porventura privilegiado, de Patrícia. Aquele que ela habita e a partir do qual assombra.
Num texto do livro, intitulado “Nem ode nem espiritismo”, lê-se:
Não tento compreender a tua morte. Não há nada para compreender. Não procuro celebrar-te (ode) ou convocar-te (espiritismo). Procuro uma resposta para o meu desgosto. Transformar a tua recordação em consolo. Formar um imaginário, construir um espaço que isole e contenha a minha dor. Um espaço que faça parte da vida. Um lugar de onde se possa entrar e sair. Um lugar onde possa visitar-te.
A capa de um livro não se assemelha a uma porta? (81)
Na porta deste livro está Patrícia, presente-ausente, com o rosto ostensivamente branco, como uma tela disponível para a projecção ou, em metáfora fotográfica, como uma película disponível à (dupla?) exposição. Mas o livro-casa a que esta porta dá acesso não pertence apenas a Guéniot, mas sim a todos nós. A Patrícia Almeida de Guéniot é um ponto de partida para a criação deste lugar. Uma vez que ela lá esteja depositada, passa a pertencer-nos também, a todos aqueles que quisermos ser assombrados por este fantasma.
Que estatuto é o de Patrícia, afinal? Não falo da Patrícia de Guéniot, mas da nossa. Porque formando um “imaginário” para si, e partilhando-o com os seus leitores, o autor deste livro iniciou uma cadeia de assombrações — na qual ele próprio se inscreve, fantasmagorizando-se também neste livro onde passará a viver, com Patrícia e o seu filho, como num jazigo familiar (à semelhança, aliás, de outros livros anteriores nos quais os três são personagens, “livros que são a condição de sobrevivência dos seus autores”, como escreveu Djaimilia Pereira de Almeida), enquanto houver exemplares de O Livro da Patrícia para serem lidos.
É que os fantasmas são transmissíveis, e contaminam todos aqueles em que tocam.
No fim de contas, interessa-me escrever sobre a Patrícia deste livro porque também a mim ela passou a assombrar. E também eu sinto necessidade de partilhar esta assombração. Proponho concluir, assim, com um testemunho pessoal.
Entre 22 de Fevereiro de 2022 e 22 de Fevereiro de 2023 desenvolvi um projecto que intitulei 365. Durante o período de um ano, fotografei todos os dias com uma pequena máquina fotográfica, seleccionando, ao fim de cada dia, uma fotografia a partir da qual escrevia algumas notas. Trabalhava num projecto de livro que, portanto, ao justapor imagem e texto, o íntimo e a partilha, a criação e a reflexão, ideias de amor, doença e morte, mantinha algumas semelhanças com O Livro da Patrícia. Coincidentemente, o livro de Guéniot foi minha companhia durante os meses finais do desenvolvimento deste projecto.
O nosso primeiro encontro não foi no Lux, mas no meu apartamento, após o correio o ter trazido até mim. E foi um encontro surpreendente. A 13 de Outubro de 2022, escrevi no meu diário:
13.10
Comprei O Livro da Patrícia, de David-Alexandre Guéniot e, ao folheá-lo pela primeira vez, deparei com:
1. o Narciso do Caravaggio, em duas versões, com o sujeito e o reflexo a ocupar posições contrárias;
2. um fotograma da cena do atravessamento do espelho no Orfeu do Cocteau;
3. a fotografia de uma página do La Chambre claire;
4. um retrato do Cocteau, com os olhos fechados, mas com outros olhos pintados sobre as pálpebras, dando a ilusão de estarem abertos.
Na aula de ontem mostrei este mesmo Caravaggio e esta mesma sequência do Orfeu (uns espelhos matam, outros dão acesso a outros mundos). Na aula anterior, tinha mostrado estes olhos pintados sobre as pálpebras de Cocteau (de modo a convencer a minha plateia de que também se pode ver com os olhos fechados). Por fim, reli o Barthes recentemente, como julgo ter assinalado nestas páginas.
Ao folhear o livro vi, ainda, dois retratos que o Man Ray fez do cadáver de Proust, mas estas prefiro não comentar hoje — hoje, dia em que também fotografei um casal num cemitério de animais.
A leitura do livro ficou documentada, também, na entrada de 22 de Outubro:
22.10
Há algum tempo li no Instagram uma publicação de um crítico de fotografia de relevo que defendia que Barthes e Sontag estão "datados". Regra geral, quando alguém diz disparates, resguardo-me no silêncio. Se Barthes está datado, também eu sou extemporâneo. Hoje terminei a leitura de O Livro da Patrícia, de David-Alexandre Guéniot, sobre a falecida fotógrafa Patrícia Almeida, companheira do autor, que é um livro que prova de forma clara e desempoeirada que, no campo da fotografia, o barthesianismo não está morto. E não está morto porque Barthes sempre escreveu sobre fotografia a partir de um lugar que estava além (ou aquém?) dos limiares da vida e da morte. Não concordo com tudo o que Barthes escreveu, evidentemente, mas negar o sopro de intemporalidade que atravessa a sua escrita nos últimos anos da sua vida é desafortunado.
O espectro de Patrícia cresceu, emancipou-se, ameaçou possuir-me. Alguns dias depois, a 26 de Outubro, ao fim do dia, chegado a Lisboa depois de um dia na Escola Superior de Artes e Design, nas Caldas da Rainha, onde leccionava, escrevi:
26.10
Cheguei ao terminal rodoviário com tempo para beber um café antes da partida. Enquanto fazia o pedido ao balcão, vislumbrei-a na esplanada. Não consegui (porque não quis) ver-lhe bem o rosto. Sentei-me, de costas, duas mesas à frente dela. Sentia o seu olhar em mim. Ela saiu alguns minutos depois. Levava um trolley, e eu vi-a atravessar a passadeira. Levantei-me e segui-a, mas perdi-a de vista. Tinha entrado no terminal. Parei no meio da passadeira, olhei para o céu — estava um assombro —, e fotografei-o.
Lógico é que ela não fosse a pessoa que imaginei nela, porque essa outra está morta. Mas por um momento aquele corpo pertenceu à outra mulher, pelo menos ao nível do imaginário — que é o real mais real.
Durante a viagem de autocarro pensei nela, em como ela talvez tivesse feito esta mesma viagem muitas vezes, dado que dava aulas na mesma escola que eu, na cidade para onde agora me dirigia. Depois de sair do autocarro, e enquanto caminhava, contemplei a possibilidade de a sua rotina ter sido semelhante à minha: apanhar o autocarro em Lisboa, sair no centro da cidade, fazer questão de atravessar sempre o parque, observar os cisnes, as árvores, as estátuas, os tenistas, tirar algumas fotografias, dar a aula, regressar nos trilhos por trás da escola, entrar no pinhal, passar no cemitério e pensar em entrar (ainda não o fiz)… Uma rotina que me anima sempre no cansaço, um prazer solitário que hoje partilhei com a fantasia dela.
Não chegámos a conhecer-nos. É provável que ela não tenha sabido da minha existência. Nunca houve nada de mim nela. Agora há algo dela em mim. Quando somos tocados por fantasmas é para sempre. Talvez seja por isso que vivemos e morremos: para manter a cadeia de contágio. É nela que a humanidade acontece.
Sem conclusões para apresentar, e duvidando, na verdade, de que pudesse chegar a conclusões no que diz respeito a este livro e à história que partilho com ele — dado que esta é uma história em desenvolvimento, cuja conclusão não antevejo nem sei se quero antever—, concluo, então, repetindo isto que escrevi a 26 de Outubro, num dos dias mais alucinantes da minha vida, e que, de algum modo, sintetiza as ideias que procurei partilhar aqui a propósito de Patrícia Almeida:
Quando somos tocados por fantasmas é para sempre. Talvez seja por isso que vivemos e morremos: para manter a cadeia de contágio. É nela que a humanidade acontece.
Referências
Almeida, Djaimilia Pereira de. 2022. “Um livro para sempre”, revista Quatro Cinco Um, Folha de S. Paulo (Nov.).
Barthes, Roland. 2010. A Câmara Clara: Nota sobre a fotografia. Lisboa: Edições 70.
Barthes, Roland. 2009. Diário de Luto. Lisboa: Edições 70.
Catalão, Rui. 2022. “O Livro da Patrícia: uma história de amor e de fantasmas”, Público (ípsilon, 4 Nov.).
Costa, Sara Figueiredo. 2022. “Íntimo e universal: O Livro da Patrícia“, Revista Blimunda 122 (Nov.).
Delbecq, Marcelline. 2023. “Le Livre de Patrícia”, The Art Newspaper, 48 (Jan.)
Guéniot, David-Alexandre. 2022. O Livro da Patrícia. Lisboa: Ghost.
Martins, Celso. 2022. A Reconstrução (possível) do outro, Expresso.